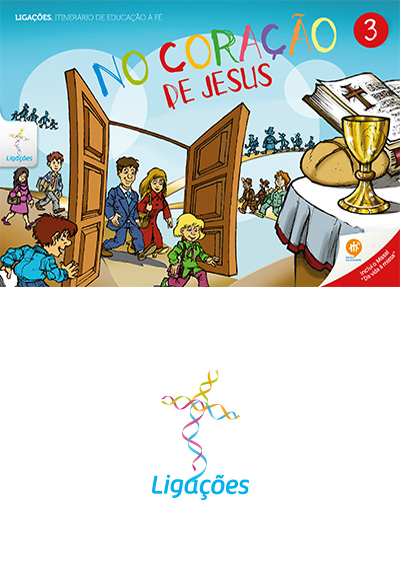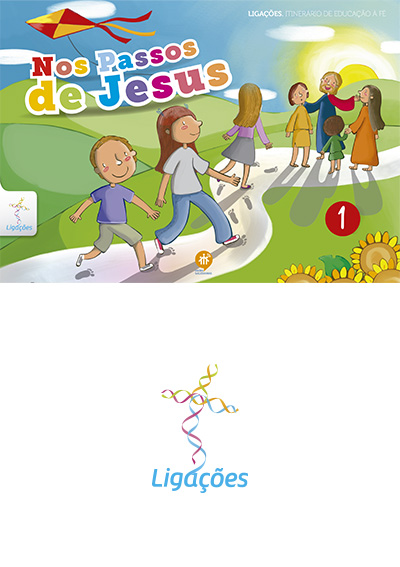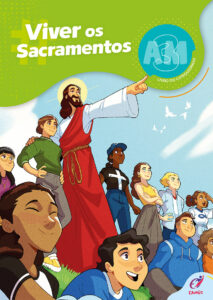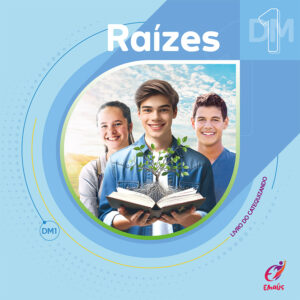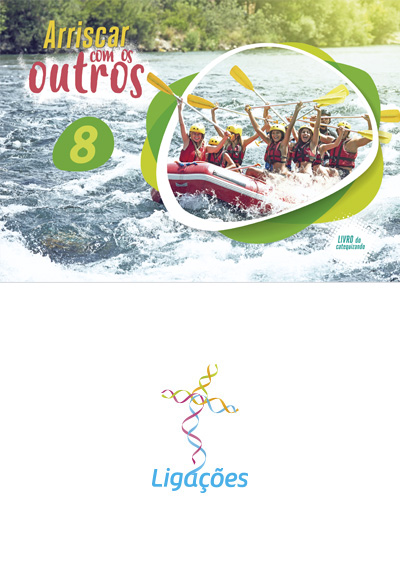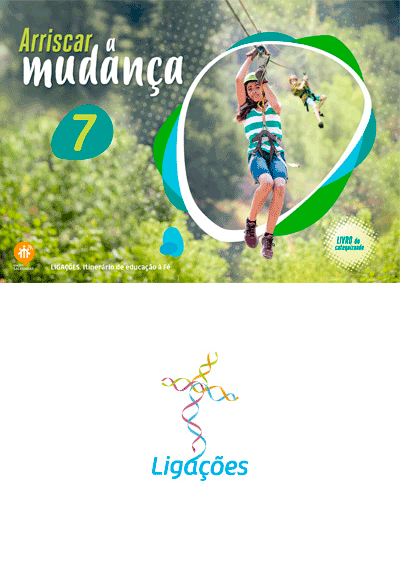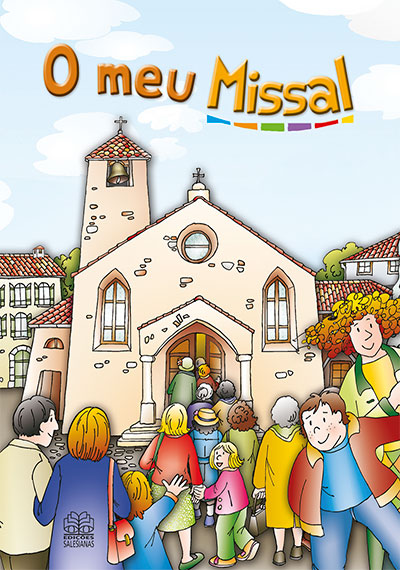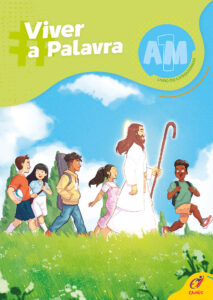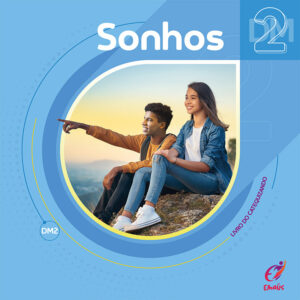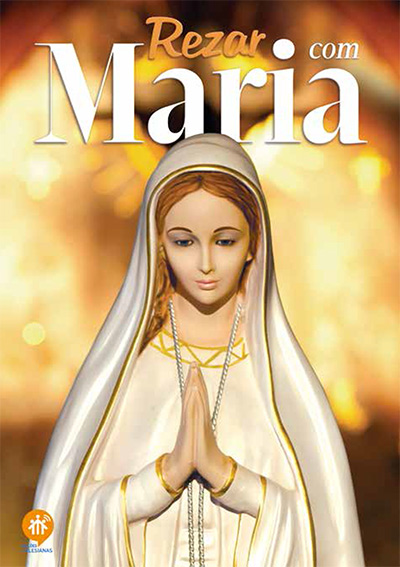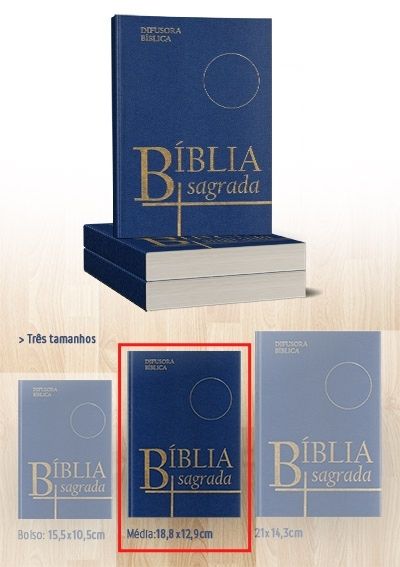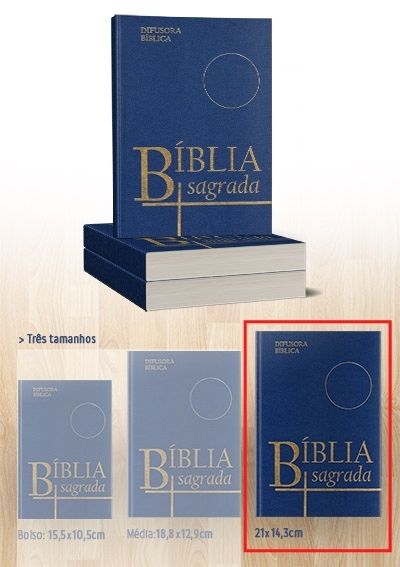Charlie e a fábrica de chocolate
Mas esta viagem-aventura à “chocolatelândia” é, simultaneamente, uma autêntica crítica social ao estilo de vida, às opções fundamentais da humanidade do nosso tempo e particularmente, do mundo das crianças do nosso tempo, tão cheias de nada, tão vazias de tudo.
Cada um dos quatro visitantes que acompanha Charlie e Will Wonka representa uma das possíveis “congestões” dos mais pequenos.
Há o guloso Augustus Gloop, cuja auto-indulgência alimentar é incentivada pelos pais; o alienado Mike Teavee, que vive em função de jogos e computadores (substitutos óbvios da televisão); a competitiva Violet Beauregarde, que encarna o espírito perniciosamente pragmático norte-americano, com sua filosofia do `vencer a qualquer preço`; e, finalmente, a mimada Veruca Salt, habituada a conseguir tudo aquilo que deseja.
Acompanhados por um Johnny Deep que mais parece a reencarnação de Michael Jackson, vemos uma sequência de excêntricas, maquiavélicas e até sádicas respostas às atitudes das pequenas crianças.
Sem o menor receio de se arriscar, o actor emprega caretas e trejeitos para ilustrar a excentricidade de Willy Wonka: depois de anos de reclusão, perdeu claramente a capacidade de se comunicar com outras pessoas.
Monstro egocêntrico, apesar de divertido, vazio de sentido, longe do mundo, longe da família, precisa também Wonka de se encontrar com as suas origens (o seu pai) para perceber como a vida pode ter novos horizontes de alegria, de realização e plenitude.
Algo bizarro, este “Charlie e a fábrica do chocolate” está visualmente bem desenhado, terminando com esta opção pela família como única solução possível para o governo da sociedade e das suas riquezas.
Ainda que algo moralista este final ajuda a compreender a riqueza do amor humano no seio da família como diferenciação de outras (nada positivas) situações de vida humana sem referentes familiares estruturantes.
Na revista Catequistas (nº 37) as propostas catequéticas.